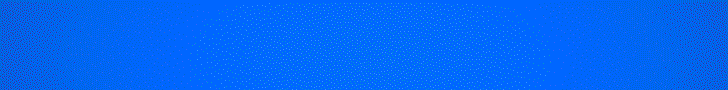A moção de desconfiança contra o primeiro-ministro Michel Barnier, aprovada pela Assembleia Nacional (AN) francesa em 4 de dezembro, resultou no rompimento da frágil coalizão parlamentar que governava a França desde setembro último e demonstrou ao mundo a disfuncionalidade do modelo semipresidencialista adotado pela 5ª República Francesa, instituída pelo marechal Charles de Gaulle em 1958.
Trata-se da maior crise de governo vivida por aquele país desde a moção de desconfiança aprovada pela AN contra o primeiro-ministro Georges Pompidou, em 1962, que levou à dissolução da AN pelo então presidente de Gaulle, à convocação de novas eleições e à formação de maioria gaullista no Legislativo, assim permitindo a permanência de Pompidou no cargo até 1968, de onde saiu para ser eleito presidente da República no ano seguinte.
O presidente Emmanuel Macron, contudo, encontra-se em situação muito distinta daquela em que de Gaulle se encontrava em 1962. Por um lado, o atual chefe de Estado francês, cujo segundo (e último) mandato termina em maio de 2027, está legalmente impedido de dissolver a Assembleia Nacional e convocar novas eleições legislativas antes de julho de 2025, pois, baseado em avaliação de cenário desconectada da realidade, cometeu o erro estratégico de dissolver a legislatura no primeiro semestre deste ano, após vitória da direita nas eleições europeias, e convocar eleições realizadas em 30 de junho e 7 de julho, na crença equivocada de que esse movimento político poderia lhe garantir maioria no parlamento.
Por outro, caso, hipoteticamente, pudesse convocá-las, decerto obteria configuração parlamentar ainda mais desfavorável do que a atual, devido a seus crescentes níveis de impopularidade e isolamento político. Macron indicou que não renunciará ao mandato e sugeriu, indiretamente, não haver como avaliar, no atual momento, a viabilidade política de novas eleições legislativas em junho de 2025. Tampouco há clareza quanto a nomes que o presidente poderá indicar para substituir Barnier (na França, a indicação ao cargo de primeiro-ministro é competência privativa do presidente da República).
O modelo semipresidencialista instituído pela Constituição francesa de 1958 padece de algumas disfuncionalidades cujos resultados, e não necessariamente os procedimentos, lembram o presidencialismo de coalizão brasileiro, possibilitado – e não instituído – pela Constituição Federal de 1988. No entanto, o modelo brasileiro foi acrescido, a partir de 2019, de uma função, constitucionalmente inexistente, que não apenas atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o papel de força política que ora age a favor do governo de turno, ora contra, mas também lhe permitiu se autoatribuir as prerrogativas de exercer o Poder Legislativo e o Executivo, algo que não existe em nenhuma nação que se pretenda minimamente civilizada.
Na França, os amplos poderes à disposição do presidente da República e o esvaziamento das competências legislativas (comparativamente às constituições do país desde o advento da 3ª República, instituída em 1871, após a derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana) conduzem ao questionamento da relevância de se separar a chefia de Estado (presidente da República) da chefia de governo (primeiro-ministro), quando se considera que a indicação deste corresponde material e formalmente àquele.
Este argumento sustenta que, se perfaz competência constitucional do presidente da República indicar o primeiro-ministro sem que tal indicação resulte da formação de maioria parlamentar eleita, o desmembramento entre chefia de Estado e chefia de governo na França inverte a lógica observada nas repúblicas e monarquias parlamentares europeias, nas quais os chefes de Estado (monarcas e presidentes) detêm funções em ampla medidas cerimoniais, enquanto os chefes de governo (primeiros-ministros e, na Alemanha e na Áustria, chanceleres federais) exercem as competências de condução dos assuntos governamentais. O presidente da República Francesa seria, na prática, tanto o chefe de Estado quanto o de governo, correspondendo ao primeiro-ministro funções fictícias de condução do governo.
O sistema francês contém, assim, mais que mera inconsistência de organização política, pois provavelmente permitirá, desde a perspectiva do Poder Executivo, a permanência, pelos próximos 23 meses, de um presidente da República cujo apoio foi essencialmente eliminado nas eleições legislativas de junho e julho últimos, sobrevivendo por meio de um espectro postiço entre setembro e dezembro deste ano, no governo “chefiado” por Michel Barnier, O Breve.
Da perspectiva do Legislativo, a fragilidade de um sistema partidário pulverizado, incapaz de formar coalizões minimamente sólidas, é atestada pelo caráter básico do tema que levou à queda do primeiro-ministro: a votação do orçamento francês para 2025. Se uma coalizão parlamentar vota uma moção de desconfiança contra o primeiro-ministro por ter este tentado resolver o impasse que obstrui a votação do orçamento de 2025, é razoável pressupor que tal coalizão não reúne condições para servir de sustentação ao governo.
A expectativa, portanto, é que a falta de apoio político do presidente da República e a impossibilidade de formação de uma coalizão funcional na Assembleia Nacional resultem em uma espécie de “governo vegetativo” na França pelo menos até que novas eleições legislativas, a partir de julho de 2025, potencialmente permitam configuração parlamentar favorável ou contrária a Emmanuel Macron. É importante destacar a possibilidade de que novo pleito tenha distribuição de assentos muito similar à atual, o que faria com o que o atual impasse persistisse até a eleição presidencial de abril de 2027.
Por outro lado, o presidencialismo de coalizão brasileiro, materializado plenamente na gestão Lula 3, conquanto ora resulte em um governo frágil, cuja agenda propositiva visa – exclusiva e precisamente – a fornecer-lhe algum apoio, sem um projeto mínimo de País para além da ocupação dos espaços do Estado, padece de males em certa medida similares aos do semipresidencialismo francês, se bem que por caminhos diferentes.
Como no Brasil não há separação entre chefias de Estado e de governo (ambas concentradas no presidente da República) e a nossa estrutura pseudofederativa não atua como um elemento restritivo à expansão dos poderes do governo federal, seria lógico que o papel de contra-arrestar o presidente e seu governo correspondesse à oposição parlamentar.
Em termos formais, não se trata de uma proposição politicamente difícil, já que os poderes atribuídos ao presidente da República pela Constituição Federal brasileira de 1988 são consideravelmente inferiores àqueles previstos pela Constituição francesa de 1958 ao presidente daquele país.
No entanto, a inexistência da separação entre as chefias de Estado e de governo inviabiliza, em termos práticos, a formação de um novo governo antes do término do mandato do presidente, já que a única via de remoção deste do cargo, o impeachment, é um instituto não apenas politicamente complexo como também traumático e sujeito à onipresente ação do STF.
Em circunstâncias normais, o resultado, no presidencialismo de coalizão brasileiro, de um governo politicamente inviável, seria bem próximo ao de um presidente francês sem apoio parlamentar, qual seja um inerte. Em 2019, contudo, surgiu no Brasil uma anomalia jurídica que permite ao STF, por meio de decisões colegiadas ou monocráticas, assumir funções legiferantes que podem tanto contrariar o governo de turno quanto favorecê-lo.
Aqui enfatizo não se tratar de uma função jurisdicional, como deveria corresponder a uma corte como o STF, mas de uma fundamental e operacionalmente legiferante, que, no Brasil, corresponde constitucionalmente ao Congresso Nacional.
Esse expediente sem previsão legal tem permitido, desde 2023, a viabilização política de um governo sem projeto nacional ou base parlamentar por meio da substituição do apoio congressual por um Supremo Tribunal Federal disposto a legislar em favor do governo e a atropelar o Poder Legislativo. Trocando em miúdos: à falta de apoio parlamentar ao governo, o STF faz às vezes de maioria parlamentar governista no Congresso. À luz de uma perspectiva formal e procedimental, essa substituição, conquanto tire o governo de um Estado vegetativo, o faz ao arrepio da democracia e por meio da instauração da insegurança e da incerteza jurídicas.
As comparações feitas entre o Brasil e a França neste artigo levam em conta as diferenças fundamentais entre os nossos principais desafios – políticos, sociais, econômicos e jurídicos, sem prejuízo de outros domínios – e aqueles enfrentados pelo país europeu.
Tampouco se ignoram as circunstâncias históricas, elas também fundamentalmente distintas, conducentes às constituições brasileira de 1988 e francesa de 1958: enquanto a nossa Carta Magna, elaborada e aprovada por uma Assembleia Nacional Constituinte, buscou assentar as bases da ordem democrática da Nova República (1985 -) após 21 anos de regime militar, o documento francês foi elaborado por Michel Debré (primeiro-ministro entre 1959 e 1962) e grupo restrito de juristas, no contexto de crise institucional, deflagrada pelo processo de independência da Argélia, que ameaçava lançar a França em guerra civil, e foi aprovada por referendo.
Essas disfuncionalidades lançam um cone de sombras sobre o futuro dessas duas nações. Uma, berço do iluminismo e dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, se revela um país fragmentado por tensões étnicas, religiosas e sociais e por tendências e práticas econômicas e comerciais marcadamente protecionistas, afastando-a de sua glória pretérita e transformando-a, como se diz pejorativamente nos centros financeiros e políticos europeus, em um país “em vias de subdesenvolvimento”.
A outra, abençoada por Deus e bonita por natureza, mas que continua se apegando a um futuro de grandeza que insiste em não chegar, sofre sob o jugo de um consórcio de poder – fruto de desvãos e desvelos urdidos às margens da lei – que não possui a menor ideia de como formular uma estratégia de desenvolvimento do País, que insiste na prática nefasta de gastança fiscal como mecanismo de manipulação de massas, que glorifica a ignorância, enaltece o vitimismo e antagoniza empresários, industriais, agricultores e os setores mais produtivos da economia, assim condenando a sociedade ao retrocesso econômico, social e político. Dessa forma, quase sem que se perceba, glória pretérita e grandeza futura, em meio a brumas, vão se desfazendo….
Marcos Degaut é Doutor em Segurança Internacional, Pesquisador Sênior na University of Central Florida (EUA), ex-Secretário Especial Adjunto de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e Ex-Secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa
noticia por : Gazeta do Povo